A menos de uma semana de estrear o seu quarto espectáculo a solo, Rui Sinel de Cordes conta ao Shifter o que todos queremos saber: afinal o que é isto do Je Suis Cordes?
Sabotados pela sessão fotográfica de Mickael Carreira, príncipe do pimba-pop, não conseguimos entrevistar Sinel de Cordes no palco do Coliseu. Tal qual estrelas de segunda divisão, somos empurrados para um café à porta da mais emblemática sala lisboeta onde nos esperam quarenta minutos de conversa a sério.
Amiúde somos interrompidos por amigos com cães de grande porte e vendedores ambulantes que nos impingem todo o tipo de figuras tribais. Não foi, de todo, fácil manter a compostura, mas a vida é mesmo assim: quando toca ao trabalho, põe-se de lado a galhofa e arranca-se para o que interessa. Quem bem o sabe é Cordes: caso contrário, não estaria prestes a esgotar o seu maior solo de sempre.
Je Suis Cordes é o resultado de quanto tempo de trabalho?
Andei a trabalhar neste espetáculo durante um ano. É completamente original em relação aos outros três solos e vai buscar algumas coisas que fiz com o Lx Comedy Club e outras com os Anjos Negros. O resto é tudo novo, tirando algumas coisas que experimentei numa noite ou duas. Estava a fazer o Isto era Para Ser Com O Sassetti ao mesmo tempo que escrevia o Je Suis Cordes.
Não há o receio de estrear piadas ao vivo para duas mil pessoas?
Não, a pressão é fazê-las para vinte pessoas, nunca para duas mil. Não gosto de testar material; noite de stand up deve ser em primeiro lugar uma conversa com as pessoas e só depois a partilha de um conjunto de pensamentos, ideias ou teorias ao longo de uma hora ou mais. Percebo o que me perguntas, até porque as pessoas podem sempre não se rir…
Neste caso seriam duas mil pessoas a não rir.
Por isso é que eu não tenho medo. Quanto mais pessoas, mais risos há. Numa sala com cinquenta pessoas há uma maior tendência para que se gerem momentos de silêncio, numa de duas mil não. São métodos diferentes de trabalho; há humoristas que gostam de testar bem o material até consolidar o espetáculo, já eu prefiro sentir mais o que estou a dizer e viver essa adrenalina de não saber como vai ser recebido.
Escrever para o Coliseu exige, por exemplo, que se facilite algumas piadas? Que adaptações fizeste ao teu registo habitual?
O Je Suis Cordes vai ser sempre igual, tirando um pormenor ou outro que podem aparecer exclusivamente em Lisboa ou no Porto. Mas são só questões de encenação. Numa sala desta dimensão tens de falar para a plateia toda, não te concentras num ponto ou dois. És mais expansivo; num clube pequeno não podes estar aos berros; aqui já podes fazer uma cena ou outra em que berras, mas isso é natural. Quando fazia espetáculos pelo país e passava de uma sala em Aveiro com setecentas pessoas para uma com cem em Caminha, essa adaptação surgia naturalmente.
Qual é o teu método de trabalho? És o tipo de pessoa que se fecha no quarto a escrever piadas e só sai de lá com o guião já escrito?
Ao longo do ano vou-me lembrando de piadas ou de situações e gravo-as no telemóvel para não me esquecer. Depois, passo uma noite a ver o que é que se aproveita e junto a histórias minhas. Há uma grande componente de storytelling no Je Suis Cordes: falo, por exemplo, dos momentos em que estamos com a nossa namorada na cama e ela não sabe que é a última vez ou das estratégias que inventamos para chegar a casa podres de bêbados às quatro da manhã sem acordar a nossa namorada. Foi relativamente fácil colar tudo.
Achas que a maior parte das pessoas tem a noção do que está por detrás de um espetáculo de comédia desta dimensão?
Não, mas também não tem de ter.
Pergunto-te isto porque imagino que muita gente te possa associar a uma imagem menos profissional…
Acho que as pessoas cada vez mais têm a noção. Há cada vez mais stand up comedians com mais público. O Je Suis Cordes tem imensos momentos de áudio e de projeção de cartoons — uma novidade nos meus solos — que ilustram o que estou a dizer. No final vai-se perceber que foi o espetáculo que mais trabalho me deu até agora.
Em quatro solos, como é que se evita repetir gags ou fórmulas de piada que as pessoas já conhecem?
Neste estilo de humor — e basta ires ver os espetáculos do Frankie Boyle, do Jimmy Carr ou do Jim Jefferies — há sempre temas que se repetem, como o cancro ou a violação. Os temas não mudam, o que muda são as situações. Há sempre novas tragédias a acontecer, como agora no caso dos refugiados. O período após o 11 de Setembro criou uma nova realidade que não havia dantes, tal como aconteceu com a Segunda Guerra Mundial ou a fome em África. Os mecanismos, por seu turno, também são sempre iguais. As ferramentas do humor são relativamente limitadas.
Sentes essa limitação?
Não, porque acabo por falar muito de mim e da minha vida. Por exemplo, o Punchliner retratava a minha fase de solteiro, este já fala mais do meu novo relacionamento, do facto de estar a namorar com uma mulher do Porto, de estar a viver com uma quarta namorada e de todos os erros que deixamos de cometer. É o espelho da minha vida. Gosto mesmo muito deste espetáculo, acho que é o melhor que fiz até agora.
E isso não terá que ver com a lógica de os artistas preferirem sempre os últimos trabalhos que lançam?
Se calhar até pode ser isso, mas não ando à procura de fazer sempre melhor, acho isso uma estupidez. Não me chateia nada que as pessoas digam que gostaram mais do Black Label do que do Punchliner. No fundo, isto é como nas bandas; os discos seguintes nem sempre são melhores, simplesmente acontece serem melhores. Se isso for acontecendo comigo, fixe. Mas não trabalho, de todo, para isso. O Louis CK explica bem o que sinto num bit em que diz que “as piadas são como fruta: depois apodrecem e já não as conseguimos dizer”…
Há uns tempos o Salvador Martinha contava-nos que evitava ter material online para que o factor surpresa fosse maior. Sentes-te condicionado por ter os solos disponíveis na net?
Eu acho que ele se estava a referir a ter piadas online que mais tarde iria fazer no solo. No meu caso, nada do que vou fazer ou do que fiz alguma vez esteve online antes de o espetáculo estar pronto para isso. Gosto muito de ter tanto o Black Label como o Punchliner no Youtube; tenho imensa gente que me aborda na rua e diz que me conheceu dali. E faço questão de seja o espetáculo inteiro; não há nada pior do que ter apenas cenas de cinco ou dez minutos online. Por isso é que nunca quis fazer stand-up na televisão; fazer um solo de uma hora é a verdadeira expressão do que tu fazes, as pessoas podem gostar ou não, mas pelo menos é honesto.
A chegada do Facebook e Twitter veio ajudar os humoristas?
Sim, acima de tudo para divulgação. Permitiu chegar mais facilmente às pessoas. Como me estão sempre a foder — neste momento estou a quinhentas cadeiras de encher a sala e tive zero rádios, zero jornalistas, zero generalistas e zero canais de notícias a falar sobre o Je Suis Cordes—, tenho de arranjar outras alternativas. O meu agente envia informações, como os tickers automáticos, e nunca passam. Há sempre alguém que me fode, que não gosta de mim e me lixa nas rádios e nos jornais. Mas também há quem goste e me ajude, como é o vosso caso, da VIP, do Record ou da Sic Radical — que é o meu canal. Para mim, isto é uma dupla vitória: as pessoas só vão estar no Coliseu porque quiseram e porque se informaram.
Pode acontecer chegares a um ponto em que te tornas tão grande que te deixam de boicotar?
Não, isso não vai acontecer. Não é que eu seja gigante, mas foda-se, é o Coliseu! As pessoas confundem a sua posição no emprego — seja de editor ou de diretor de revista, canal ou meio online — com os seus gostos pessoais, e isso vai sempre acontecer. Nunca chateei ninguém sem ser com o humor e continuam a foder-me na mesma. Mas depois eu fodo-os em palco, aqui mesmo no Coliseu. Não há nada a fazer, é continuar até que sejam despedidos e esperar que venha outro a seguir que goste de mim.
O que é que torna esta sala tão especial?
Eu quis fazer este espetáculo para satisfazer uma experiência pessoal. Já que sou o meu patrão, gosto de me mimar o máximo possível. E se esgotar, como eu quero que esgote, vai ser uma grande noite. Vim aqui ao circo com a minha mãe, quando era mais novo. Vi aqui imensos concertos…
Há algum de que te lembres em particular?
O do Tony Carreira [risos]! O que mais gostei de ver foi Keane, mas lembro-me muito bem de vir aqui ver o concerto do Tony Carreira com amigos meus (todos homens) e rimos muito. Na altura nem sequer pensava em ser humorista e é giro ser eu agora a atuar na sala principal. Foi também aqui que fiz o Black Label — que gravei para a radical e há de sair um dia um DVD — com a sala disposta ao contrário. Na altura disse que ainda ia passar para a principal, e não passou assim tanto tempo. O Coliseu é emblemático… A seguir é o Olympia, em Paris [risos]!
Com a Amália?
Com a Amália numa urna. Olha, já me deste uma ideia para o cenário [risos]!
O que é que te deixa mais receoso nesta experiência?
Nada. Só mesmo adoecer e não poder vir ou ser atropelado aqui à porta. Mas fazia o espetáculo na mesma, fosse de cadeira de rodas ou de muletas. Seria um pouco mais lento, mas a graça era idêntica.
Mesmo que te morresse um familiar, não cancelavas?
Não, não pode ser. The show must go on.
A escolha do nome do espetáculo, tendo em conta o facto de te assumires como ateu e apolítico, é algo curiosa. O que te levou a batizar assim este quarto solo?
Para já, porque dá um cartaz do caraças [risos], e depois porque tudo isto do Je suis Charlie é bastante recente e me diz muito. Nem por sombras me quero comparar aos cartoonistas — até porque nunca tive nenhum problema que pusesse em causa a minha integridade física —, mas todos os dias levo com pessoas que se dizem Charlie e que me lixam a mim e a outros colegas todos os dias. Como se não bastasse, agora os Charlies de Janeiro deixaram de o ser agora em Setembro depois da imagem da criança síria afogada. É este o reflexo da nossa sociedade.
Vai ser o teu espetáculo mais político até agora?
Não lhe chamaria político, acho que é mais social. Fala sobretudo daquele tipo de pessoas que cresceu nos últimos vinte e quatro meses; a brigada do politicamente correto no Facebook que acorda para se ofender com alguma coisa o dia inteiro em vez de estar a trabalhar e a criar petições que são assinadas por meia dúzia de pessoas.
Não há humor à Cordes sem mulheres e bebida?
Dificilmente, porque são grande parte da minha vida [risos]. As mulheres porque gosto muito, a bebida porque não conseguia dizer as alarvidades que digo sem ela.
Qual foi a melhor piada que ouviste nos últimos tempos?
No outro dia estava a ouvir uma compilação dos solos mais ofensivos de sempre e houve uma que ficou na cabeça. É do Frankie Boyle e fala sobre a Jade Goody, que morreu de cancro. A piada é: “o marido dela teve sorte, porque como era cancro cervical, à medida que o tempo ia passando, a cona ia ficando mais apertada. Antes da doença, devia ser como uma canoa. Não sabias se havias de entrar nela ou se havias de remá-la”. Agora quero ver-te a publicar isso [risos].
Sentes que estamos a voltar a um período pouco fértil para novos conteúdos de humor e entretenimento?
Não sei se há menos espaço para humor nos dias de hoje, mas há, de certeza, menos espaço para o humor como deve ser. Há demasiado espaço para humor que é feito para não chatear, e esse humor é insuportável. Se o humor não abanar nada, mais vale substituírem-no por outro programa de gordos.
Very Typical, a estrear em breve, é o terceiro programa de autor que escreves para a radical. O Pedro Boucherie continua a ser único diretor que te dá luz verde para qualquer projeto?
O Pedro não é o único, mas é sem dúvida um dos Charlies portugueses. Depois dos problemas que tive na +Tvi, falei imediatamente com ele durante alguns almoços e chegámos a este modelo. Ele queria um programa de tops e eu queria outra oportunidade para falar mal dos portugueses. Chegámos a um acordo e avançámos logo. Estou há um ano a preparar isto e vai ser o meu melhor programa de sempre. Não sei se é o mais hilariante, mas é, de longe, o mais bem feito. Estou a estrear-me na realização e tenho tido muito mais cuidado com a imagem. Depois, há um grande trabalho de guião do Paulo Almeida, do Rui Cruz e do Manuel Cardoso. Estivemos semanas isolados em hóteis a pensar nos modelos e no desenvolvimento de cada um dos tops.
O que é que cada um deles acrescenta em específico ao programa?
Todos eles são diferentes. Embora as pessoas possam achar que o Paulo Almeida e o Rui Cruz são parecidos, os dois têm maneiras muito diferentes de escrever e de pensar. Dentro do humor negro, seguem ideias e caminhos completamente distantes. Depois, o Manuel trouxe uma ligação à realidade de um público com o qual não me dou no dia-a-dia — isto porque tenho trinta e cinco anos e o Manuel vinte e um —, mas que não posso perder porque é o meu target e também o target da Radical. Interessava-me perceber o que é que os miúdos com dezassete e dezoito anos veem, conhecer a gíria deles… O Manuel é para mim o que o Miguel Esteves Cardoso gostaria de ter sido aos vinte e um. Da idade dele é sem dúvida o melhor. No geral, é um dos melhores escritores e pensadores de humor portugueses.
Vai estar em grande daqui a dez anos?
Daqui a dez meses! Quem lê o que ele escreve — quer seja no Facebook, na Playboy ou nos Bumerangue — percebe que é genial. Quem dera a muitos humoristas de trinta e quarenta anos ter a piada dele. Tem muito pouco a aprender com os mais velhos, porque todas as ideias que traz — desde as comparações, aos gags, pessoas e personalidades — são trendy, são smart. E isso dá-nos uma grande frescura.
Preocupa-te que possas vir a cair noutros erros de casting, como foi o Roleta Russa na +TVI?
De maneira alguma. O programa teve uma série de erros de toda a gente, mas sobretudo meus. Meus porque era eu quem tinha de decidir se as coisas estavam bem ou mal e na altura tomei uma decisão errada. Nunca nada correu bem. Aquele programa, com outra perspetiva, mais tempo e mais trabalho teria sido muito melhor. O modelo era muito engraçado, só que correu tudo mal.
Apagava-lo do teu currículo?
Não, mas se voltasse atrás era das poucas coisas que faria de um modo radicalmente diferente. Tinha logo dito que “se isto é para ser assim, então não faço”, até porque não ganhei muito com aquilo. Ganhei a experiência; quando for para o próximo programa de estúdio já tenho a lição estudada.
9 meses depois do Je Suis Charlie sair à rua, sai o Je Suis Cordes #JeSuisCordes #MupisASair #Lisboa16OUT #Porto6NOV pic.twitter.com/j4VtzJ27Sw
— Rui Sinel de Cordes (@RuiSinelCordes) September 24, 2015
E esse próximo programa, vai ser na SIC Radical?
Se calhar. Gosto muito de estar na Radical; por mim ficava sempre lá. O dinheiro que ganho com os programas que faço para lá chega-me para ser feliz, mas as coisas mudam. Uma vez o Boucherie disse-me que os Homens da Luta nunca iam sair da Radical — o que fazia todo o sentido na altura — e a verdade é que acabaram por ter um programa ao sábado à noite na generalista. Não há verdades absolutas; não vamos estar sempre num país em que o humor menos clean é visto como marginal. Daqui a dez anos podemos todos estar a ter programas de humor negro na SIC. Ninguém sabe.
O que é que mais te orgulhou ver nascer nos últimos dez anos de humor português?
Foi ver uma série de jovens — com vinte, vinte e um e vinte e dois anos —, que até passaram pelos meus cinco workshops, a fazer humor negro sem medos e sem sofrerem as represálias que sofri há dez anos, muito até a nível de público. Os pais já não têm vergonha de os ver e as salas estão quase sempre cheias. No geral, as pessoas foram-se informando mais: já sabem como se comportar numa sala, já não têm medo de se rir. O pior de um espetáculo é não haver risos porque as pessoas têm vergonha.
Quando não há risos, a culpa é do humorista ou da plateia?
A culpa não é de ninguém. Ainda há muito a fazer pela comédia em Portugal. Em Central London há cinquenta comedy clubs, aqui há um.
E pode haver mais do que um?
Claro. Pode e deve. Daqui a vinte anos vamos estar bem melhor. Na altura do Levanta-te e ri, a maior parte do público era estreante e não sabia como reagir a certas situações. Havia a ideia de que não se podia ofender o público, como se fosse teatro…
Seria injusto falar-se de humor em Portugal sem falar de Rui Sinel de Cordes?
Eu já sou arrogante, e tu fazes me esse tipo de perguntas para ver se eu pareço ainda mais [risos]. Acho que cada um tem o seu humor, logo, cada um terá de responder a essa pergunta. Há pessoas que odeiam humor negro e que não gostam de mim, e depois há pessoas que adoram humor negro e que não gostam de mim, sobretudo as que acham que o humor negro só pode ser feito em inglês. Para essas pessoas nem são faz qualquer sentido tocar no meu nome.
Fotos: Margarida Almeida e Silva/Shifter



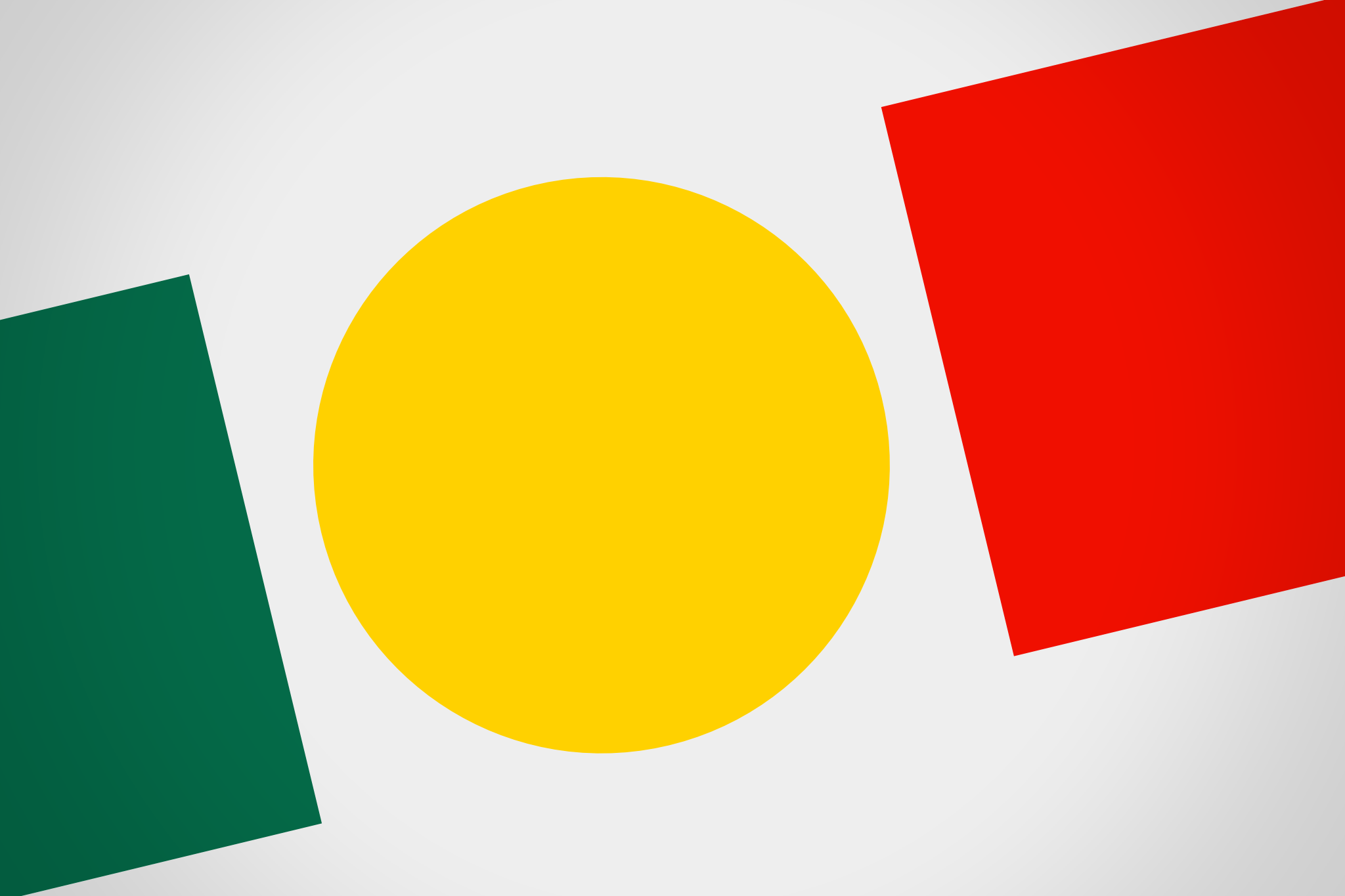


You must be logged in to post a comment.