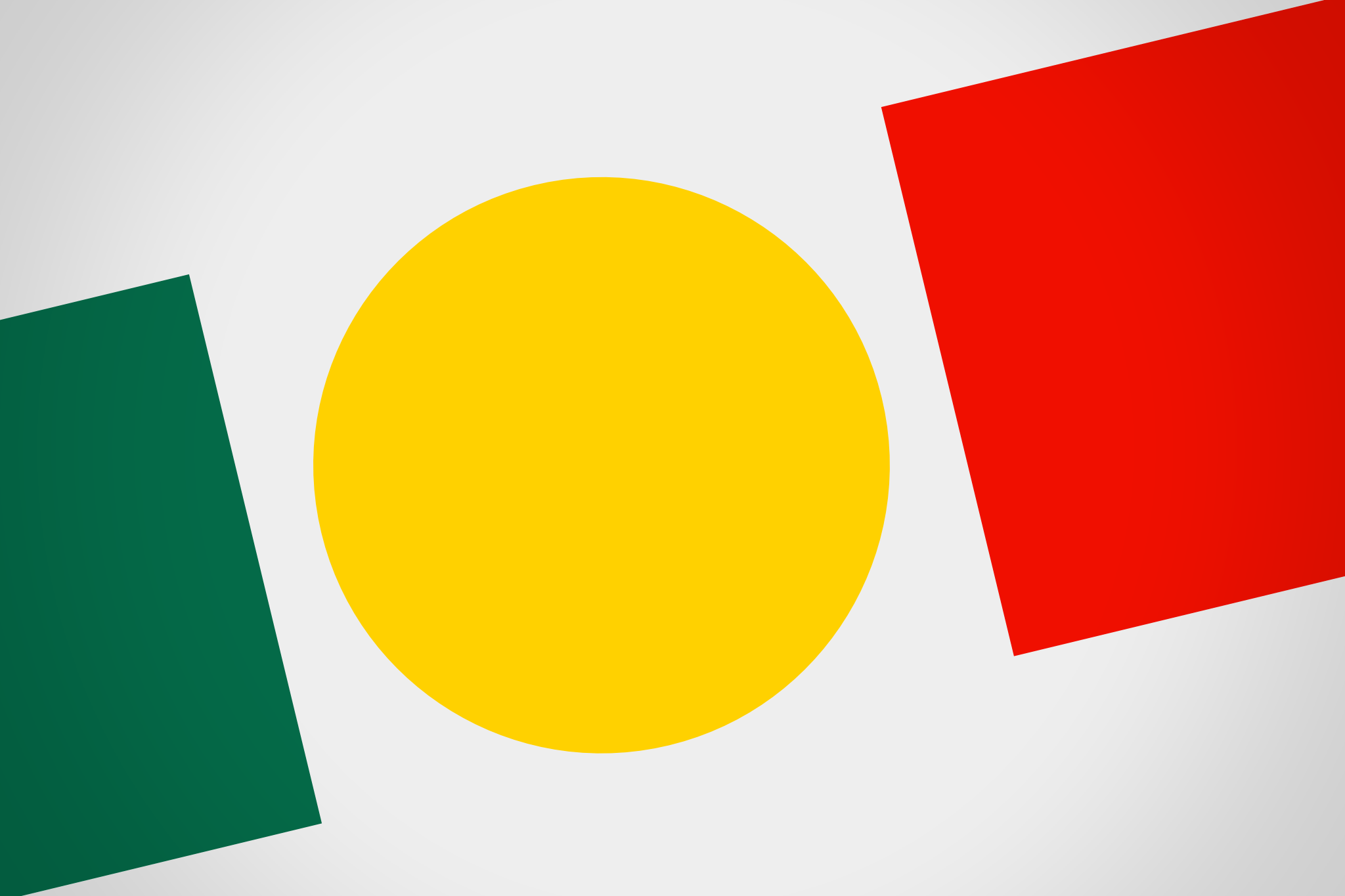Se é verdade que a política real está a acontecer cada vez mais nas redes sociais — os dramas, o teatro político, a oratória, os pedidos de desculpas, isto é, a política que anda a par ou contribui para o ambiente social —, nada de verdadeiramente substantivo está a mudar na sociedade como consequência desta dinâmica. Nesse sentido, dou razão ao filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, quando ele afirma, na obra No Enxame, que “as shitstorms [tempestade de indignação] não são capazes de pôr em questão as relações de poder dominantes. Tomam por alvo somente determinadas pessoas, que assediam ou denunciam como motivo de escândalo”. Neste prisma, também podemos testemunhar o verdadeiro sucesso da política neoliberal, que pode ser delineada da seguinte forma: as únicas manifestações que podem ocorrer actualmente são aquelas que se cingem ao mundo virtual e que tenham um teor cultural — despedem-se pivôs, mudam-se ou eliminam-se episódios de programas de televisão, pressionam-se políticos a pedirem desculpa. Esta mudança de reivindicações, a par de um novo tipo de manifestações, agrada bastante às grandes empresas, pois torna mais claro o novo perfil do consumo: históricas com personagens de etnia mais diversificada, o desaparecimento de certos filmes antigos nas plataformas de streaming e um tipo de humor específico. Neste sentido, apesar destas transformações culturais serem feitas com violência, irracionalidade e uma hiperactividade característica das redes sociais, ao serem caracterizadas por um pulsar económico, facilmente podem ser manipuláveis pela indústria.
O lado mais perverso desta revolução cultural, como anteriormente afirmei, centra-se exactamente no seu lado consumista — não se trata, por exemplo, de criticar a génese das redes sociais e a forma como têm mudado as nossas vidas, mas em garantir que o algoritmo tenha um determinado comportamento. No limite, não se trata de condenar a forma como a indústria da moda ou da tecnologia, que utilizam a mão-de-obra barata e escravizada da Ásia e da América Latina, mas em garantir que elas, por exemplo, no caso dos telemóveis, disponibilizem uma opção nas definições em que se possa definir o género de forma mais inclusiva ou capas com cores mais diversificadas. Em suma, não está em questão a estrutura de produção nem os produtos em si, mas as características mais superficiais dele. Não é por acaso que a indústria facilmente se adapta a tudo isto. A partir do momento em que, na última década, os movimentos LGBTQ ou feministas ganharam mais força e apoio generalizado por parte da sociedade, rapidamente começaram a surgir roupas com arco-íris estampados ou o slogan “girl power”.
Serão as manifestações uma moda dos privilegiados?
É caricato ler-se na imprensa internacional títulos como o de uma crónica do New York Times, “Black Activists Wonder: Is Protesting Just Trendy for White People?”. Em jeito de resposta à questão colocada, começo por citar um estudante que na revolução de Maio de 68 tentava captar a confiança dos trabalhadores de uma fábrica, afirmando: “nós não queremos estudar para depois sermos os vossos patrões”. Existe algo em comum entre as manifestações francesas de 68 e a manifestação anti-racista em Lisboa, também ela maioritariamente constituída por jovens. Não é só de agora que manifestações, cujas reivindicações se centram numa mudança radical da sociedade em vez de mudanças em sectores específicos, como as questões laborais, atraem jovens da classe média, constituída maioritariamente por brancos em países como o nosso. Por um lado, é usual as gerações mais novas gritarem por uma rotura com o status quo, isto é, com as estruturas tradicionais de poder; por outro, são elas as mais capacitadas para fazer a manifestação: ainda não se conformaram com o sistema, têm mais posses financeiras, não têm medo da repressão policial e política, mas, acima de tudo, têm saúde (tendo este último aspecto ganho uma relevância maior nos últimos meses). Porém, a questão tem mais interesse do que possa aparentar inicialmente; esta mesma parcela da sociedade olha para o futuro com cepticismo e cheia de desilusão. Actualmente, os jovens têm de ter habilitações académicas cada vez mais específicas, o que os obriga a estar mais tempo na faculdade; estão cada vez mais dependentes dos pais, o turismo desenfreado fá-los ter dificuldades em encontrar habitação digna a preços comportáveis, o desemprego chegou aproximadamente aos 20%, em Portugal, e os governos ainda não deram um sinal político necessário para combater as alterações climáticas. Podemos afirmar que os jovens estão cada vez mais desesperados.
Se olharmos para a evolução dos Black Panthers, mais como movimento do que como partido, notamos a mesma dinâmica que a questão inicial propõe debater. As manifestações que exigiam a libertação de colegas que tinham sido presos injustamente, inclusive a conhecida activista Angela Davis, ganharam uma credibilidade relevante após o apoio dos jovens brancos intelectuais e artistas, isto é, de classe-média e alta. Este patrocínio pressionou, por um lado, os partidos e as instituições democráticas, por outro, vendeu uma imagem mais limpa e moderna ao cidadão comum branco. O mesmo acontece com as manifestações actuais nos EUA que, ao terem jovens brancos nas multidões, torna muito mais difícil a acção repressiva da polícia, bem como a argumentação por parte daqueles que pretendiam estampar por motivos racistas uma imagem de barbárie aos protestos. Assim, é premente que a comunidade negra, inclusive em Portugal, aproveite o apoio da classe privilegiada, pois dificilmente conseguirão mudar algo sozinhos – o sistema fará questão de acabar com o movimento.
A quase ausência da cobertura da manifestação anti-racista, sendo que não se limitou somente à capital, em comparação com a de André Ventura, demonstra os diferentes interesses que estão em jogo e obstáculos que existem para os movimentos orgânicos. A mediatização desenfreada faz com que os movimentos políticos e sociais tenham de ter uma intuição cada vez maior, o que pressiona os jovens a criarem novas formas de luta mais criativas, de forma a chamar a atenção de quem está atrás das muralhas em segurança.
Manifestar, mas com ordem
A grande distinção entre uma manifestação sindical e uma orgânica (não sindical e não partidária), ainda que só em teoria, é que, estando a imagem da primeira marcada pela ordem e por uma representação institucional, da segunda não se espera uma disposição, uma ordem particular (o que neste momento se traduz na garantia total da segurança de saúde pública). Assim, parece-me que centrar a discussão no aspecto da saúde pública para posteriormente se discutir a liberdade de manifestação é intelectualmente desonesto e, acima de tudo, perigosamente anti-democrático. No entanto, pretendo fazer uma abordagem incisiva e desmistificar alguns dos argumentos utilizados para que seja mais clara a razão pela qual considero existir uma hipocrisia em volta deste tema.
Em primeiro lugar, existem algumas investigações que nos levam a concluir que manifestações em movimento, em espaço aberto e em que os manifestantes utilizam máscaras, acarretam uma probabilidade de transmissão do vírus baixa, tendo em conta o contexto de ajuntamento de pessoas. E foi este o caso da manifestação anti-racista que ocorreu pelo país fora. Em segundo lugar, não existe nenhum dado científico que comprove que os novos infectados de Lisboa tenham surgido da manifestação. Assim, trata-se simplesmente de uma discussão política em torno das liberdades colectivas e individuais que o governo deixou intocáveis nesta fase de desconfinamento. Acima de tudo, trata-se de uma discussão em torno do simbolismo de vermos imagens que alguns qualificam como meros ajuntamentos irresponsáveis. Em terceiro lugar, e aproveitando a última argumentação, os novos casos de infecção em Lisboa, segundo os especialistas, ainda que com alguma cautela por não existirem dados concretos (somente especulações com base na geografia e demografia dos novos casos), devem-se à precariedade na habitação, no trabalho e nos transportes públicos, circunstâncias que podem justificar mais manifestações. Então, não estamos perante duas posições antagónicas (ser-se civicamente responsável ou criminoso), mas sim em algo consequente: o desemprego, a falta de condições nos transportes, a precariedade que aumentou com a pandemia, inclusive no ensino, podem ser as causas de futuras manifestações e merecem o apoio da fatia mais privilegiada, que, nesta lógica, significa os jovens da classe média.
Chegado a um ponto de desespero, pelo menos para uma fatia grande da sociedade, há quem exija uma manifestação que cumpra todas as regras de saúde pública, sem se aperceberem da aberração das suas exigências (não me estou a referir às organizações de saúde que naturalmente têm a função de serem pedagógicas nesta questão). E é possível que uma parte destas pessoas, sem se aperceberem, exigem, mais do que uma manifestação ordeira, um líder forte. Certamente ele conseguirá impor um ambiente caracterizado por um lado mais teatral e mecânico dos regimes totalitaristas: a ordem, a simetria, a lógica matemática, a perfeição – algo descrito brilhantemente na distopia literária Nós (Zamiatine). No entanto, esta lógica esquece que a revolta se move precisamente pela irracionalidade, pela violência e pelos gritos de contestação contra os valores civilizacionais que as instituições defendem. E é esse mesmo sistema que, ao não conseguir controlar a irracionalidade dos manifestantes, bem como atender às suas exigências, tem constantemente recorrido, pelo mundo fora, à repressão policial e militar, inclusive nos países mais pacíficos e democráticos.
Tudo isto, aos olhos da maioria da sociedade, usualmente, é visto com desconforto e desconfiança. Ora estão assustadas com os manifestantes que se negam ao conformismo ora estão assustadas com a repressão policial. Nesse sentido, o verdadeiro desafio dos movimentos está em convencer o resto da comunidade de que a inércia prejudica todos, inclusive aqueles que consideram os seus direitos inalienáveis. Se é verdade que pode existir uma luta moral individual em cada um de nós, tendo em conta estarmos perante uma pandemia, devemos ter em consideração o facto de diversos países estarem a aproveitar o contexto gerado por essa mesma pandemia para reforçar os poderes de um líder único e em despir as minorias de direitos e liberdades. A um nível mais profundo, devemos questionar-nos sobre o papel da desobediência civil num quadro de pandemia.
–
Texto de: João Francisco Pinho