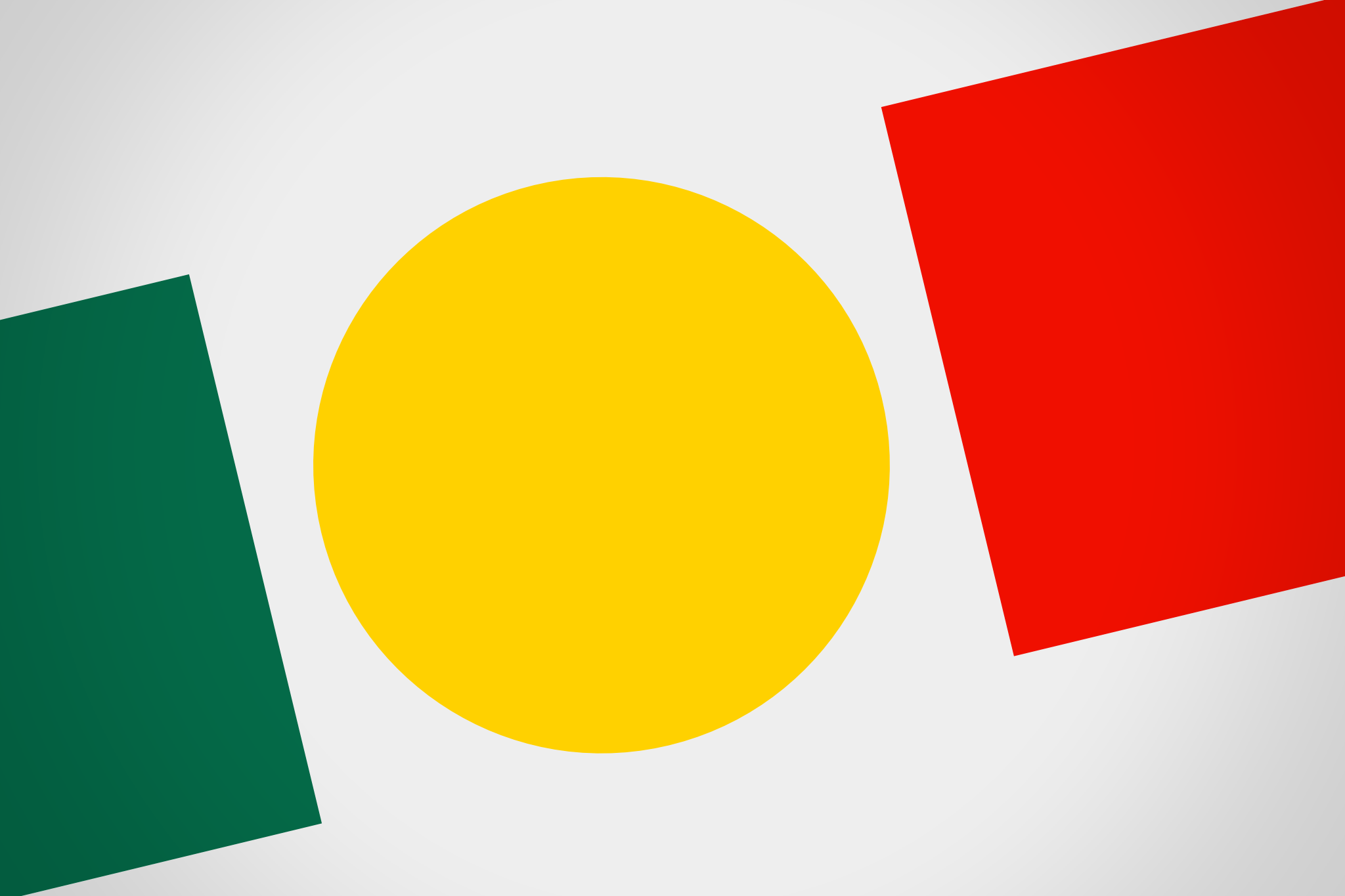“[A]pesar de uma ressonância profunda (…) convém advertir que este livro foi todo escrito antes da pandemia da Covid-19”. Assim termina o parágrafo de agradecimento do livro O Desligamento do Mundo e a Questão do Humano do filósofo português André Barata, e inicia o artigo da 1ª edição da Revista do Shifter em que seguimos as pistas deixadas pelo filósofo nesse livro, escrito antes da pandemia, recorde-se, para procurarmos explorar o sentido da pandemia de Sars-CoV-2. Às ideias de André Barata expostas posteriormente numa entrevista por e-mail e outras presentes no seu livro, juntámos outros intervenientes – André Peralta Santos, Médico Especialista em Saúde Pública, Bernardo Gomes, também médico com a mesma especialidade, e João Marecos, advogado e com trabalho na área da desinformação, que nos permitiram um olhar mais especializado sobre aspectos concretos da gestão de um fenómeno desta escala. Seguindo as pistas do livro, falámos sobre a pandemia que lhe sucedera. Falámos, por isso, sobretudo sobre a forma como ela se abate sobre as sociedades, numa entrevista por escrito em que expressões do próprio livro enunciam as questões.
O Desligamento do Mundo e a Questão do Humano, editado pela Documenta no ano de 2020, convida à ilustração da sociedade contemporânea e dos padrões da vida humana segundo a analogia do desligamento. Num confronto directo com a ideia de que estamos cada vez mais ligados em rede, o filósofo André Barata estabelece uma longa análise crítica do que esta ideia de senso comum representa, propondo que, pelo contrário, estamos cada vez mais desligados. “[N]a realidade nunca andámos tão desligados do mundo e de tudo o que nele não está sob o controlo do sistema de produção global”, pode ler-se no princípio do prólogo. O livro, que se divide em 9 capítulos, debruça-se sobre diferentes ângulos da esfera global da vida em sociedade, problematizando-se.
Escrito de um modo simples e numa linguagem acessível, apesar da complexidade das ideias expostas, o livro convida permanentemente a um exercício de questionamento entre o que nos propõe e o que observamos, conduzindo uma reflexão bastante ampla mas nunca dispersa. André Barata estabelece ao longo do livro uma série cruzamentos entre referências mais mundanas, como é exemplo o texto “O skate e o gozo da materialidade” também publicado no Shifter e no Jornal Económico, e referências intelectuais como Hannah Harendt, Byung-Chul Han, Mark Fisher, entre muitos outros, que o tornam simultaneamente complexo e inclusivo.
A entrevista feita em Julho deste ano 2020 foi dividida em duas partes. Uma primeira em que se procurou explorar uma maior relação das ideias com o momento concreto da pandemia, promovendo a reflexão que se materializou no artigo na revista do Shifter, e uma segunda de maior abrangência temática, em que embora o impacto do contexto acabe por se fazer sentir, se procuraram explorar outras nuances. Esta tendência para relação fácil — contagiosa —entre as problemáticas do mundo pré-pandemia e aquelas com que o surto global nos confrontou serve simultaneamente de sustentação para a ideia da crise como catalisador de uma mudança pré-determinada pelo contexto em que ocorre e para validação do conceito de Desligamento proposto pelo filósofo. André Barata propõe a ideia de um desligamento em parte precipitado por uma obsessão pela conexão que assim nos desliga do mundo – no sentido mais próprio da palavra – uma ideia que, por ventura, poderia ser contrariada por um vírus que nos invadiu vindo da natureza, mas cuja persistência de certas formas se fez sentir quer na resposta institucional, quer na resposta social ao problema.
Shifter: “A sobrevivência deixou de ser meio para a vida e passou a ser o fim mesmo da vida.” — Um fenómeno como o coronavírus, sendo de origem biológica e sem discriminar quem infecta, pode de algum modo restabelecer a ligação ao mundo – ao evocar um elemento natural – ou a própria forma com que encaramos e reagimos ao vírus é já demasiado desligada?
André Barata: As duas ideias são verdadeiras. Haveria uma consciência do desligamento do mundo a ganhar quando de repente a realidade de um vírus se impõe. Até Donald Trump já pôs nestes últimos dias uma máscara na cara! O princípio da realidade vai-se impondo. Mas, ao mesmo tempo, tudo é feito para contornar o problema e restabelecer o desligamento. A maneira como estamos a lidar com o vírus é determinada sobretudo pela vontade de restabelecer um normal a que se chama novo, mas em que a novidade é apenas o que o normal tem de acomodar e absorver, neutralizar num sentido muito particular o facto da pandemia: não a sua virulência e letalidade, mas a sua agressividade para com o sistema sócio-económico e político do desligamento. Portanto, sim reagimos à pandemia sobretudo comandados pelo desligamento e era precisamente a isso que devíamos resistir. Era preciso ter visto na pandemia uma fissura e por ela ter espreitado para o mundo desligado.
“A maneira como estamos a lidar com o vírus é determinada sobretudo pela vontade de restabelecer um normal a que se chama novo, mas em que a novidade é apenas o que o normal tem de acomodar e absorver, neutralizar num sentido muito particular o facto da pandemia: não a sua virulência e letalidade, mas a sua agressividade para com o sistema sócio-económico e político do desligamento.”
S: O Coronavírus expõe a falência da promessa da modernidade de prover o que os humanos necessitam? Tanto pela confrontação com o carácter patogénico de um elemento biológico, como pela diferenciação de tratamento desta potencial condição biológica (de afectado). Quase como tornando óbvio que o sistema não protege todos por igual?
A.B.: O sonho da modernidade foi de facto esse de prover aos humanos o total controlo sobre as suas condições de existência. Ou seja: recriar artificialmente a condição humana, incluindo os seus aspectos mais básicos: o nascer e o morrer. Mas esse sonho é também a via para o seu maior logro: alcançar assim o controlo, por uns, do mais vasto conjunto de condições de dominação de todos os outros. O vírus é um pesadelo para o sistema porque perturba esse ideal do controlo, como uma enxurrada de mundo real a ameaçar entrar dentro da uma unidade fabril de alta eficiência produtiva. E por isso a reacção do sistema ameaçado é também expectável: uma resposta empedernida que tudo faz por absorver os impactos da enxurrada, manter o sistema funcional, a não ser no que respeita ao aumento das desigualdades. Como se a igualdade fosse um capital disponível para ser gasto na conservação do sistema. Ora, mas isto é apenas consequência do tal sonho que esconde um logro. A pandemia só forçou o logro a tornar-se mais visível. Ao menos é uma oportunidade para o ver com mais clareza e esperar assim que mais se disponham a perguntar e agir pela possibilidade de uma mudança com sentido.
S: “Com o impulso da novidade transferido para as possibilidades da tecnologia, resta repetir o velho em novas plataformas.” p22. Com o surgimento do coronavírus emanou a ideia de se criar uma aplicação para recolher mais informação, evidenciando uma tendência para a ideia de que mais se o estado possuir mais poderia mitigar quase por completo a crise. Em sentido inverso, tem havido inúmeras críticas à forma como a comunicação da DGS, nomeadamente as contagens de casos têm falhado. Esta dissonância não ecoa, de certa forma, uma visão da tecnologia enquanto mecanismo de extracção de informação. Como se um aparato que mantém o estado das coisas mas simula mudá-las implicando cada vez mais a cedência das informações individuais de cada um?
A.B.: O extrativismo é uma das pragas do nosso tempo, em que tudo é degradado à condição de recurso. O medo da morte é um velho e muito bem sucedido extrativismo consentido das liberdades, portanto, em regime voluntário. É realmente um tema clássico o da servidão voluntária, dele já falava Étienne de La Boétie num discurso cuja leitura é muito instrutiva. E, para seguir o raciocínio até o fim, vista assim, a pandemia é um recurso espantoso para a extracção de liberdades nestes tempos que estamos a viver. Mas não de todas as liberdades, ou pelo menos não na mesma medida. São sobretudo as liberdades de permanecer fora do sistema, indetectável, em parte incerta, sem rasto, liberdade de garantia de permanecer consigo toda a identidade. Liberdade de resistência a ser célula de organismo, de tecido orgânico. Neste sentido, julgo que é muito importante recuperar valores libertários, seja diante do Estado, seja diante de social media, agregadores de big data, etc.
S: “É claro que devíamos parar de sobreviver. O que não é possível sem uma libertação política do poder que constrange à sobrevivência” p23. A impreparação do aparelho institucional na reação à pandemia pode ser vista como um sinal da insuficiência deste sistema? E a sua tentação para criar aplicações de monitorização – sistemas de vigilância em massa – visto como mais um constrangimento à nossa sobrevivência, pela ambiguidade da sua função – vigia-nos enquanto promete de proteger-nos?
A.B.: Numa sociedade liberal, a maneira de se perder as liberdades é ser-se persuadido a prescindir delas voluntariamente. A necessidade de protecção é uma oportunidade de ouro para a admissão da vigilância, a autorização de acesso aos dados e de rastreio. Mas esta tendência de controlo é profundamente moderna. É quase um corolário da própria racionalidade. Só não entra em paradoxo com a liberdade, porque se assume que a liberdade é uma matéria da vontade e que a vontade pode prescindir dela. Curiosamente, não sei se com plena consciência disso, uma pensadora como Hannah Arendt recusava uma ideia de liberdade como livre-arbítrio, liberdade de escolha. Para ela, liberdade não era um assunto de vontade, que esta pudesse, portanto, dispensar. Mas a liberdade dos liberais, pobre, apenas negativa, de não interferência, é facilmente dispensável. Não é a liberdade como atributo fundamental da cidadania como pensaria o republicanismo, mas apenas a liberdade de estar na sua vida privada, nas suas iniciativas. O paradoxo é que estas duas liberdades acabam de facto a confrontar-se de uma forma completamente inversa àquela que os liberais supunham. Não é a liberdade republicana, mas a negativa que permite a instalação de um sistema que vai tornando cada vez mais os indivíduos apenas células de um organismo, tratados como massa orgânica, desprovido de autonomia. A palavra-chave é mesmo autonomia: ser conduzido pela vontade (ou auto-determinar-se) não chega para se ser autónomo. E só há liberdade onde há autonomia, onde é permitido o tempo necessário a uma vontade formar-se, uma autodeterminação constituir-se com razões.
“Numa sociedade liberal, a maneira de se perder as liberdades é ser-se persuadido a prescindir delas voluntariamente. A necessidade de protecção é uma oportunidade de ouro para a admissão da vigilância, a autorização de acesso aos dados e de rastreio.”
S: O tempo ‘incontrolável’ da modernidade, a tal ditadura do tempo, é aquele em que os mercados sobem enquanto milhares de pessoas ficam em casa em confinamento?
A.B.: Sim, é o mesmo tempo, ou melhor, o mesmo espaço-tempo, totalmente tomados por uma lógica de eficiência extractivista. Mas é um movimento paradoxal: um tempo tornado abstractamente infissurável – contínuo de medida, de valores quantificáveis… juros, rendimento, dívidas! – e um espaço abstractamente divisível, compartimentável, racionalizável, fazem parte do mesmo sistema, são os dois lados da mesma moeda. Por isso, em vez de constituir uma oportunidade de paragem, como chegámos a achar que poderia ser, o confinamento imposto pela pandemia foi na realidade a forma ainda mais acirrada, em modo de sobrevivência, deste espaço-tempo. Sobrevivência e medo são meios de extrativismo puro, com eficiência garantida.
S: “E precisamente são estas distinções jurídico-políticas que determinam o acesso à vida ou que impossibilitam. São biopolítica letal em acção.” p24. No princípio da pandemia, Edward Snowden num festival documental em Copenhaga antecipou a criação das aplicações como forma de os governos avançarem mais um nível no seu sistema de vigilância dos cidadãos. Sugere que depois de saberem onde estamos, querem saber como estamos fisicamente, partindo daí para a descrição de um cenário de controlo cibernético, com sistemas que consigam inferir reações emocionais de cada cidadão. Esta tendência poderia ser vista como um novo estágio da biopolítica ainda mais individualizada e portanto potencialmente discriminatória?
A.B.: É certo que não é possível governar sociedades tão complexas e populosas como as nossas sem um grau de biopolítica, e que a ciência e a tecnologia que permitem acomodar mais não o fazem sem biopolítica. Mas entre isso e o que estas tendências indicam há uma diferença gritante: estas seguem o caminho do que poderemos chamar totalitarismo digital. Totalitarismo porque entra em todos os aspectos das vidas das pessoas sem qualquer respeito pela diferença entre público e privado, e digital, evidentemente porque é esse cada vez mais o meio do seu exercício.
S: Em reação ao vírus uma das mensagens que mais se viu foi o “Vai ficar tudo bem” escrito por crianças. Por vezes fala-se numa infantilização da cultura ocidental, essa reação pode ser vista como um sintoma? A substituição de uma atitude racional por uma mensagem que ecoa uma certa inocência e fragilidade?
A.B.: Há um sociólogo norte-americano que tem usado precisamente essa expressão. Simon Gottschalk fala de uma infantilização da cultura ocidental muito nesse sentido. Eu penso que esta infatilização não é separável de um outro aspecto da ditadura do tempo: a aceleração da experiência do tempo. Esta aceleração, sentida a todos os níveis da vida social e privada das pessoas, desde logo do consumo, traduz-se numa relação com a realidade social cada mais reactiva, apenas reactiva, menos tolerante ao diferimento, incapaz de suportar a espera pela satisfação das necessidades que o desejo define. O nome “Chega” dado ao partido populista português foi, a este respeito, bem ao ponto. Ora, em termos psicanalíticos, é esperado que o amadurecimento psicológico de uma criança suceda através de um equilíbrio entre princípio de prazer e princípio de realidade. Simplesmente, a aceleração torna mais difícil esse equilíbrio, com sacrifício do princípio de realidade. Por isso, não espanta que haja uma infantilização impaciente, intolerante ao diferimento, concomitante à aceleração, e que tudo isto se passe pré-politicamente, não como escolha colectiva, mas como necessidade social.
S: Não é também esta mensagem sinal de uma sensação de impotência – a tal impotência para sermos sujeitos da história e não apenas elementos reactivos?
A.B.: Sim, tornamo-nos reactivos, e procuramos compensar a impotência para a acção, por um empoderamento de reacção. Mas isso é como deixarmos de ser sujeitos para passarmos a ser objectos. Quem reage é muito mais determinado a reagir do que determinante de uma acção. A explicação do populismo passa em boa medida por aqui.
“Ora, em termos psicanalíticos, é esperado que o amadurecimento psicológico de uma criança suceda através de um equilíbrio entre princípio de prazer e princípio de realidade. Simplesmente, a aceleração torna mais difícil esse equilíbrio, com sacrifício do princípio de realidade. Por isso, não espanta que haja uma infantilização impaciente, intolerante ao diferimento, concomitante à aceleração, e que tudo isto se passe pré-politicamente, não como escolha colectiva, mas como necessidade social.”
S: “Frankfurt School scholars such as Herbert Marcuse, Erich Fromm and other critical theorists suggest that – like individuals – a society can also suffer from arrested development. In their view, adults’ failure to reach emotional, social or cognitive maturity is not due to individual shortcomings. Rather, it is socially engineered.” É essa visão infantilizadora que se exprime em desejos como a aplicação contact tracing – uma suposição da necessidade de vigilância a custo da privacidade – que usa até a tecnologia para, de certo modo, expandir virtualmente uma particularidade até aqui humana – a da memória sobre com quem estivemos?
A.B.: Não sei bem se é a visão infantilizadora ou se é mesmo o medo (o medo, de certa forma, também é infantilizador) que faz as pessoas aderir a aplicações de contact tracing, como no passado fez pessoas prescindir em maior ou menor grau das suas liberdades. Mas uma coisa sei: há um logro na ideia de expansão de faculdades humanas, por exemplo, da memória. Pode-se falar de expansão, mas de uma memória que já não é nossa, e nem sequer complementa a nossa memória. Substitui-a e fá-la regredir. Que números de telefone sabemos de cor desde que alienámos essa memória a um chip de telefone? Lembramo-nos dos telefones de casa dos avós, há décadas atrás, mas não sabemos os números dos nossos filhos. Esta regressão tem o seu quê de infantilização, mas é tanto consequência como causa da adesão maciça e acrítica à substituição tecnológica de faculdades humanas.
S: “Não há melhor forma de indício do nosso desligamento do mundo do que o uso desta mesma palavra para exprimir tanto o problema de fundo que nos afecta como a estratégia para nele nos manter.” Poderíamos dizer o mesmo em relação ao termo distanciamento social quando revela a falência da promessa de sociabilidade criada pelas redes sociais e se admite, tacitamente, que não existe verdadeira socialização online? Esta correlação não pode ser vista como uma certa consciência global da importância do material ou biológico no acto social?
A.B.: Sim, acho isso. Mas porquê? Uma relação começa verdadeiramente quando aquele com que me relaciono não é apenas um meio para mim, um recurso, uma imagem que controlo, que nada tem de inesperado e de irredutível a mim. Ora, o online apresenta-nos uns aos outros cada vez menos como um dado irredutível a cada um de nós, uma singularidade, mas um formato, um tipo, com reacções tipificadas e disponibilizadas. Por isso, a socialização online é um empobrecimento da relação porque não comparecemos por inteiro, sem o filtro de um avatar, de uma conversão de cada um num item de um modelo pré-fabricado. Que tem isto que ver com o material ou mesmo com o biológico? É que a materialidade, desde logo a do mundo, é o elemento dado irredutível com que temos de nos relacionar como estando para lá do que controlamos. E essa característica é precisamente uma característica do relacionamento e da sociabilidade.
S: Uma das tendências paralelas ao covid-19 foi o do teletrabalho. Neste cenário muitos trabalhadores queixaram-se do excesso de trabalho, da necessidade de fazer horas extra e até de serem vigiados pelos patrões. Este é um fenómeno que comprova que quando as actividades são sujeitas a um desligamento ainda mais literal, todo o processo de erosão dos direitos, se acelera e fragmenta ainda mais?
A.B.: O desligamento do mundo e da sua materialidade é, na verdade, uma libertação de quaisquer limites ao pleno controlo do humano pelo humano. Deixa de haver irredutibilidade, deixa de importar confiar nessa irredutibilidade. Porquê confiar no trabalho se é possível controlar no teletrabalho? Ora, o desligamento do mundo é a construção desta possibilidade cada vez mais larga e integral do controlo. A erosão dos direitos, das liberdades é tão patente quanto a das faculdades. Mas numa sociedade liberal isso não parece constituir problema porque tudo é voluntário, nada é feito conta a vontade de alguém. Mas a pergunta seguinte a fazer vai sendo óbvia: ainda somos alguém, ainda somos sujeitos, com autonomia, quando as vontades são produzidas e consumidas sem apropriação de espécie alguma?
“Porquê confiar no trabalho se é possível controlar no teletrabalho? Ora, o desligamento do mundo é a construção desta possibilidade cada vez mais larga e integral do controlo. A erosão dos direitos, das liberdades é tão patente quanto a das faculdades.”
S: “Na verdade, para Arendt, não é apenas a natureza, mas ambas, a natureza e a história que se vêm anuladas através do processo de alienação do mundo.” Hannah Arendt publicou depois do lançamento de Sputnik, este livro surge curiosamente depois do lançamento da SpaceX e daquele que foi o primeiro passo de uma estratégia para comercializar viagens ao espaço. Não só sonhamos com abandonar a Terra com um custo cada vez mais baixo, falava-se até em turismo espacial. O avião que encurtava distâncias é cada vez mais frequente. Para além de tudo isso surgiu a Internet, que nos aproxima embora só de forma virtual. O que anulamos em todo este processo? Trocámos a Terra pelo Mundo e o Mundo pela Web – um misto entre espaço real e virtual em que não há um compromisso de todas as circunstâncias do que é material (podemos viajar para um país pobre e ficar num sítio rico, vamos a um site mas não conhecemos a sua estrutura, etc.)?
A.B.: Essa é uma observação muito interessante. O desligamento não é apenas um resultado mas um método. Falo de desligamento do mundo, mas ele processa-se por inúmeros desligamentos, do tempo, das emoções, da verdade, da sobrevivência, etc. A prática do desligamento naturalizou-se de tal maneira que não nos perturba nada ir a um site sem conhecer de todo a sua estrutura, não nos perturba muito o gueto rico numa sociedade de miséria e guetos de miséria em sociedades ricas. Na verdade, é como se assumíssemos que cada um desses lugares é um sistema e que as razões que nos devem ocupar são apenas as que fazem parte do sistema. A superfície do site, o convívio rico já têm desafios de inteligência e juízo moral que bastem. Introduzir outros só prejudica a eficácia dos primeiros. Tudo isto está demasiado impregnado no nosso olhar sobre as coisas e os outros. Há um tipo de pensamento, em torno de Edgar Morin, que teve bastante impacto nos anos 80 e que, entretanto, saiu de cena, que captava, talvez um tanto confusamente, este problema, reivindicando uma crítica da análise, da separação de planos, da perda do sentido de integração, da complexidade. Mesmo em ciência, reivindicava que a hiperespecialização fosse acompanhada de um incremento de transdisciplinaridade, conhecimento comum, competência comum de toda a ciência.
S: “Com a mesma força que a desmaterialização, na verdade como o outro lado do mesmo domínio técnico que elimina distâncias-tempo, desenvolvem-se tecnologias de materialização, como a das impressoras 3D.” Sendo como outro lado da moeda, a tecnologia de impressão 3D aproxima o custo material do produto final – é preciso matéria-prima para produzir a impressão. Nesse sentido não podem contribuir para uma consciência da materialidade modeladora ou até certo ponto atenuadora desse desligamento, dessa alienação? Sendo como que o oposto da realidade virtual
A.B.: A utopia da desmaterialização é chegar a dominar a materialidade. O sonho do 3D anda perto da aventura da alquimia, aquela tentativa de ciência que se mistura com ingredientes mágicos e espirituais que Yourcenar descreve tão bem na sua Obra ao Negro. Mas há aqui um paradoxo: por definição, o dado é o que não podemos chegar a dominar. Ao dominá-lo deixar de ser dado. É como tentar estar vivo na morte. Mas o fascínio é esse. E além do fascínio é uma tremenda ambição de poder e controlo sobre a existência, a existência própria da humanidade mas a própria existência no que possa significar existir. O que é também um fascínio do absoluto, digno de uma teologia da omnipotência e da omnisciência mas secularizadas.
“A prática do desligamento naturalizou-se de tal maneira que não nos perturba nada ir a um site sem conhecer de todo a sua estrutura, não nos perturba muito o gueto rico numa sociedade de miséria e guetos de miséria em sociedades ricas. Na verdade, é como se assumíssemos que cada um desses lugares é um sistema e que as razões que nos devem ocupar são apenas as que fazem parte do sistema. A superfície do site, o convívio rico já têm desafios de inteligência e juízo moral que bastem.”
S: “A metáfora de Marshall McLuhan da aldeia global diz a verdade: não foi o global que se tornou uma aldeia simpática, como uma monocultura, repetida e entediantemente globais. (…) Um pensamento social-ecológico integrado, sem desligar dimensões sociais e dimensões ecológicas, sem desligar a economia das pessoas e estas do mundo, que não começasse por avaliar tudo como recursos, naturais ou humanos, numa roda de instrumentalização a que se chama produção.” A forma como empresas como a Uber proliferam no mercado, resilientes a todo o tipo de pressão, até legal, assentes em direitos de propriedade intelectual e reputação, quase como “pintando” o mundo com as suas cores, é um sinal da monocultura dessa aldeia global, de um prisma social e económico? Nesse sentido, a atomização do trabalho que promovem, através de mecanismos de sub-contratação, é a prova de que realmente não existe uma aldeia global mas apenas uma ideia projectada pelo sistema capitalista?
A.B.: Sim, é isso. Eu usei a expressão “aldeia global” de forma um tanto irónica. O sentido que lhe estou a dar não é o utópico sentido que lhe dava Marshall McLuhan. Na realidade, o que quis dizer é que tudo se vai tornando igual, uma monocultura social à escala global em que as pessoas são atomizadas, ou empregando outra imagem: um tecido orgânico global que tem por células indivíduos. Que tem isto que ver com a uberização? Sem dúvida, por aí conformamo-nos à atomização: cada um a coincidir com uma unidade produtiva. Mas essa coincidência que parece autonomia é, na verdade, uma cedência a ficar numa condição de célula de um sistema, condição funcionalizada, até na vida privada. A uberização é a mercantilização voluntária de cada vez mais bens de uso e de relação privados através de um aproveitamento extrativista das possibilidades de economia da partilha, traindo-a. Há maior traição aos ideais da economia da partilha do que o rentismo do alojamento local no coração das cidades de Lisboa e Porto? Os uberizados do Airbnb são os vizinhos que resistem e, antes deles, os trabalhadores da zona que não podem residir ali, nem perto dali, nem mais ou menos perto dali. Só longe, fora da cidade, apesar de esta ir ficando despovoada. A uberização tem, por isso, camadas: um nosso concidadão pode ser uberizado porque não teve outro modo de obter rendimento, uberizado porque teve de ir viver para longe e pagar uma renda maior do que seria razoável, uberizado porque tudo isto é resultado de escolhas voluntárias, apesar de fortemente condicionadas, uberizado porque não dispõe de meio de protesto, cada vez menos autónomo, mais impotente, mais célula do tecido orgânico. Lemos muito sobre IA e sobre vida artificial, mas talvez fosse de conceptualizar mais e melhor este tecido orgânico artificial que já está aí.
S: “Até que ponto essas imagens persistem imagens de alguém que, antes, permanecia em si mesmo uma não-imagem? Até que ponto, pelo contrário, não vamos migrando para essas imagens, nós ou o centro de gravidade das nossas vidas, quando acontece passarmos mais tempo com elas e como elas do que fora delas?” Jonas Staal e Jan Fermon num projecto artístico recentemente lançado propõe a Colectivização do Facebook partindo de uma queixa formal às Nações Unidas, formando uma espécie de cooperativa de todos os utilizadores; propõe que a dinâmica de empresas com o Facebook põem em causa o direito à auto-determinação dos indivíduos; e que essa partilha de poder entre os utilizadores pode conferir aquilo que chamam intimidade infraestrutural – na medida em que os cidadãos partilham o meio de expressão pública, aproximando as redes sociais de um espaço verdadeiramente público, com algoritmos do conhecimento público. Esse tipo de heterotopias pode contrariar a tendência de desligamento e aceleração que este tipo de ligação, explorada pelo communicative capitalism provoca?
A.B.: Eu desconhecia essa proposta, mas é precisamente isso que também tenho tentado apregoar. No meu pequeno livro E se parássemos de sobreviver? sustentei a ideia de que as redes sociais simulam espaço público, mas realmente não são. É claro que o espaço público pode entrar por elas adentro, mas o preço a pagar é elevado. Sem um consciência crítica das redes sociais que leve a uma discussão do seu design, do meio ambiente que criam, dos modos de resposta e dos tempos de resposta que privilegiam, a migração do espaço público para os social media será apenas uma maneira simpática de nomear a transformação da política em populismo e pós-verdade. Era preciso que a actualidade não fosse tão obsolescente, que a reacção emocional não fosse tão promovida e o debate racional tão despromovido. E há opções de design que têm influência nisto. Como as caixas de comentário nos jornais. Os proprietários do Facebook poderiam fazer algo nesse sentido. Mas é óbvio que preferiria que ao lado do Facebook aparecessem iniciativas de redes sociais, social media vocacionados para serem espaço público. E talvez alguma regulamentação, mesmo nas redes sociais privadas. Não digo que tenha de haver uma colectivização do Facebook, mas é preciso entender que os social media têm uma componente de commons e por isso têm de ser comunitariamente acessíveis e regulamentáveis sem que sejam nessa componente tomados como propriedade, privada ou colectiva.
S: “Não há concepção de justo sem noção de bem.” – p20. Em Immortality, Milan Kundera fala-nos da ideologia da imagology como um estádio em que as sociedades se relacionam com imagens/reflexos das ideologias, veículados através de símbolos gráficos ou até mesmo da evocação nostálgica de regimes antepassados; actualmente parecemos assistir a uma polarização cada vez maior do debate político, por exemplo nas redes sociais, ancorada, muitas vezes, nessas ideias simbólicas. Esta polarização pode explicar-se pela falta de uma noção de bem que não evoque a nostalgia, a falta de uma solução para o futuro que não se procure copiar o passado? É por este desligamento entre o justo e o bem – testemunhado em lutas como as anti-touradas, conforme posteriormente referido – que se dá a slow cancellation of the future —em que o “progresso” não desaparece parte mas desaparece o seu sentido no momento actual, o seu sentido contemporâneo?
A.B: Eu concordo com a ideia de uma polarização do debate político e que se faz em torno de imagens esquemáticas, quase sempre desligadas da realidade, como se subitamente as questões mais importantes das nossas vidas tivessem pouca ou nenhuma relação com as nossas vidas. Veja-se a obsessão populista com o marxismo cultural e a ideologia de género, que não são mais do que fantasmas simbólicos, e a obsessão subscrita por grandes sectores da sociedade com o politicamente correcto. Como se pode tornar agenda política em Portugal um tema como este quando nunca se viu ninguém prejudicado na sua liberdade de expressão, mas já todos os dias nos chegam notícias de violência doméstica, de racismo, de discriminação? Em todo o caso, eu tenho associado a polarização a um fenómeno a montante: o da aceleração do tempo social. Esta determina um meio ambiente tão propício à reacção, à emoção, à moral pré-feita, à intolerância ao outro, logo repelido, e à transformação própria, quanto inóspito à acção, à incorporação de motivos que a determinem e à transformação do próprio.
“Não digo que tenha de haver uma colectivização do Facebook, mas é preciso entender que os social media têm uma componente de commons e por isso têm de ser comunitariamente acessíveis e regulamentáveis sem que sejam nessa componente tomados como propriedade, privada ou colectiva.”
S: “Cada vez menos sujeitos de deliberação e ação, cada vez mais nódulos de reação, membranas conscientes, hiper-sensibilizadas, mas apenas isso, a consciência afeiçoada a ser apenas dispositivo de reação, aos estímulos, às sensações, ao fluxo que cada mais, se constitui como meio imersivo da sua existência”, p21.
“A realidade divide-se em duas, até talvez se inverta a hierarquia de investimentos, preferindo o virtual, o online, à espessura da matéria, cada vez mais empurrada para fora da vida, mantida nas suas fronteiras.” Esta ideia parece traduzir-se numa tendência para se interpretar o mundo online como um possível fim e não como um meio (de comunicação). O desligamento em que se baseia a nossa fuga para o online faz com que online troquemos os papéis dos elementos? No real procuramos o digital e no digital procuramos cada vez reminiscências do real (realidade virtual, pele semelhante à humana, etc) – sendo que só a primeira premissa se pode concretizar. Esta não é uma fórmula que condena à partida o desejo humano imanente, impossibilitando o tal “crime perfeito”?
A.B.: A noção de um “crime perfeito” – utilizada neste contexto por Jean Baudrillard – é, diria eu, perfeita. A substituição do real pelo virtual virtualiza o real. Se o online começou por ser um novo meio de comunicação, como que expansão dos media tradicionais, ou seja, mais um mediador, agora é o meio ambiente onde tudo ou quase tudo o que importa sucede, e por isso deixou de ser realmente mediador, antes carece de mediadores. Talvez por este motivo a expressão social networks tenha caído em desuso e no lugar dela se tenha passado a falar social media. E em face deste novo meio ambiente, onde existimos cada vez mais, tanto privada como publicamente, o real torna-se cada vez mais apenas meio de suporte, hardware da existência. Ou ainda o intervalo de existência, o momento da desconexão, o exterior da vida, a fronteira. Além disso, o real não consegue ser mais do que um desejo. O sonho da simulação perfeita, esse desejo de reconstruir todo o real virtualmente, procura fechar o intervalo entre existência online e existência material, torná-las indiscerníveis. Essa possibilidade pode ser imaginada como a situação que encontramos no primeiro filme da saga Matrix em que Neo tem de escolher entre ficar na simulação indiscernível ou entrar e descobrir o real. Simplesmente, como uma diferença: a escolha que se nos coloca é a inversa – ficar no real ou entrar na simulação indiscernível. No limite, não sei responder a esta pergunta. Tudo dependerá do que fizer sentido a partir do contexto da escolha. Por isso, como digo neste livro, prefiro o Inception ao Matrix. Há um certo fetichismo do real que não subscrevo.